Autoria em Tempos de Algoritmo
Artigo publicado no jornal Diário de Santa Maria em 17/07/2025
Marcio Medeiros
7/23/20252 min read
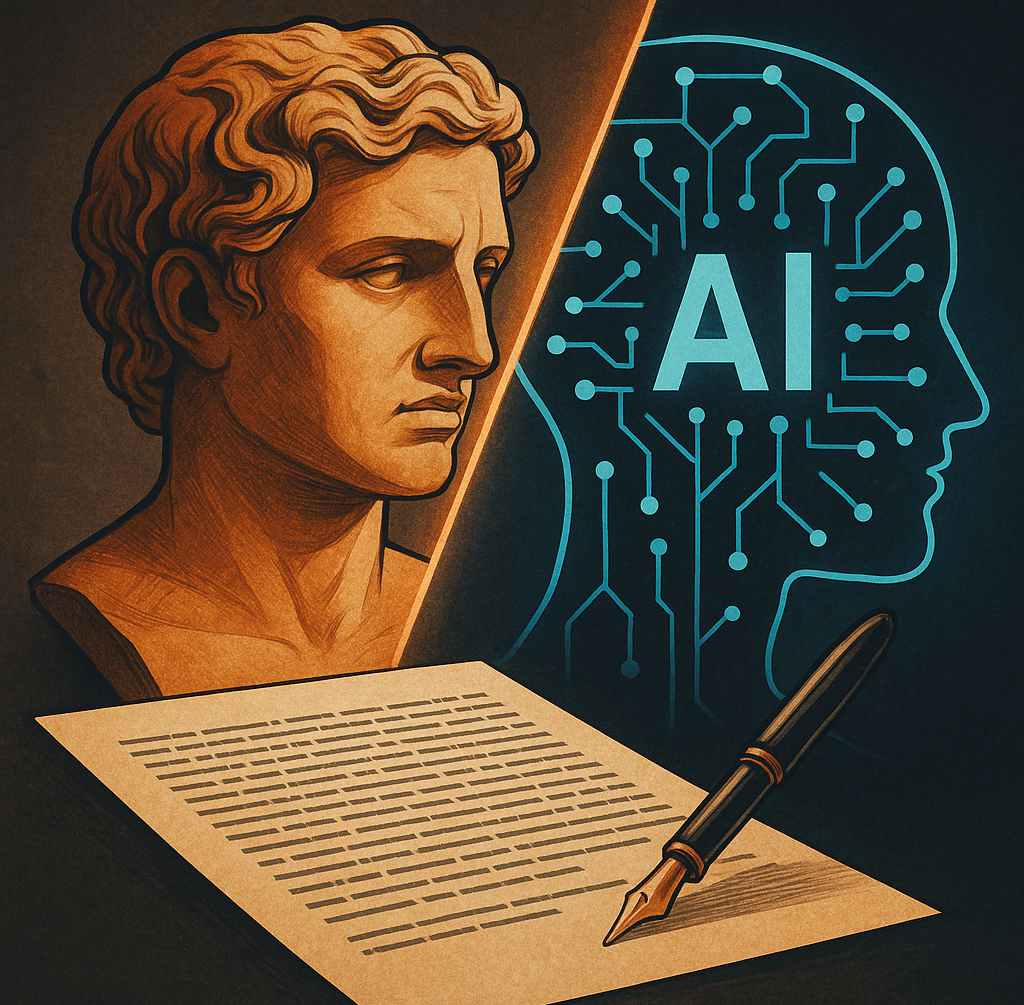
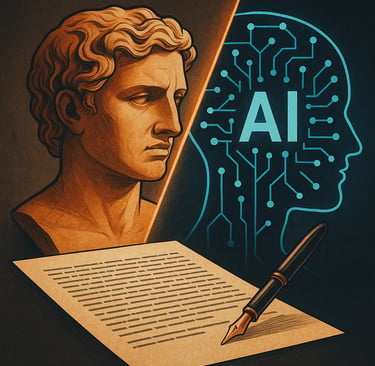
Recentemente, deparei-me com um artigo que versava sobre o uso das inteligências artificiais no processo de construção textual. Na matéria, dois linguistas apresentavam posições divergentes. O primeiro assumia uma postura inflexível, afirmando que um texto produzido por um ser humano e posteriormente “aperfeiçoado” por uma IA deixaria, por esse motivo, de ser considerado obra de autoria humana. Já o segundo defendia que o uso da inteligência artificial na linguagem é um caminho irreversível, não apenas inevitável, mas desejável — especialmente se integrarmos essa ferramenta, desde cedo, às práticas escolares de letramento. Apesar do antagonismo entre as posições, havia um ponto de concordância: em nenhuma hipótese a IA substituiria a necessidade do indivíduo de aprender a escrever, desenvolver pensamento crítico e ampliar seu repertório linguístico e cultural.
Essa controvérsia nos conduz a reflexões epistemologicamente instigantes. Sustentar que a intervenção da IA retira do sujeito a autoria de um texto equivale, em certa medida, a afirmar que qualquer revisão gramatical ou estilística feita por terceiros transforma o revisor em coautor. Se esse raciocínio fosse levado às últimas consequências, teríamos que reconhecer como coautores silenciosos milhares de orientadores, revisores e leitores críticos que colaboraram, ao longo da história, na lapidação de teses, dissertações, artigos e livros sem jamais terem sido formalmente creditados.
Uma alternativa mais intelectualmente sofisticada seria compreender a autoria não como mera execução material de um texto, mas como elaboração de um projeto conceitual, expressão de uma intencionalidade criadora e domínio de uma lógica argumentativa própria. Se tomarmos essa definição como referência, um texto arquitetado e conduzido por um sujeito humano, ainda que utilize ferramentas de inteligência artificial para refinar seu estilo, permanece sendo uma produção de sua lavra intelectual. A IA, neste caso, opera como um instrumento técnico — tal como o foram, em outros tempos, a pena de escrever, o corretor tipográfico ou mesmo o editor acadêmico.
Importa destacar que o bom uso da inteligência artificial demanda uma compreensão sólida de seus limites: a IA não cria, não inventa, não inaugura sentidos. Ela reorganiza padrões com base em dados preexistentes. A inovação, o juízo crítico e a tessitura argumentativa continuam sendo prerrogativas exclusivamente humanas. O sujeito pensante é aquele que confere direção à máquina, que decide o que manter, o que suprimir, o que questionar. E é justamente por isso que o desenvolvimento de competências linguísticas, de capacidade analítica e de sensibilidade estética não se tornam obsoletos — ao contrário, tornam-se ainda mais imprescindíveis.
Vivemos em uma época marcada por sobrecarga informacional e crescente automatização de processos intelectuais. Nesse contexto, a formação de sujeitos capazes de articular saberes diversos, discernir a qualidade das fontes e exercer pensamento crítico torna-se tarefa inadiável da educação contemporânea. Não se trata de resistir à inteligência artificial como se fosse uma ameaça à criatividade humana, mas de assumi-la como aliada potencial — desde que não nos esqueçamos de que, sem discernimento, sequer seremos capazes de reconhecer o que é “real” diante do simulacro, nem tampouco de avaliar com propriedade o que é intelectualmente relevante diante do ruído superficial dos dados.
